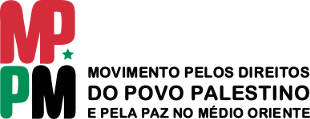«As miragens da 'pax americana' no Médio Oriente», por Nicole Guardiola
Artigo publicado na revista África 21 em Março de 2019
Como Barack Obama no início do seu primeiro mandato, Donald Trump quer manter a supremacia dos Estados Unidos no Médio Oriente e impedir a Rússia e a China de atrair o (mal) chamado «mundo árabe» para a sua órbita. Os meios e as tácticas mudaram, mas as dificuldades continuam e os fracassos acumulam-se.
Reunidos em Riade, em Dezembro, os representantes dos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Koweit, Omã e Qatar) aprovaram a constituição da Aliança Estratégica para a Estabilização do Médio Oriente (MESA em inglês), mais conhecida como «OTAN árabe», e o seu arranque formal em 2019, por ocasião de uma nova cimeira entre Donald Trump e os líderes árabes.
Desde então, o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, dá voltas pelas capitais árabes para convencer os seus interlocutores a «ultrapassarem as velhas rivalidades» e coordenarem as suas forças para combater o «aventureirismo agressivo» do Irão na região.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que tenta fazer do Irão a pedra de toque de uma coligação israelo-árabe, que enterraria de vez o projecto de criação de um Estado palestiniano (ver África 21 de Fevereiro) multiplicando os contactos com dirigentes árabes, colabora activamente com Washington para envolver os governos europeus na «nova» estratégia americana para o Médio Oriente, como se viu na conferência internacional que se realizou em Varsóvia, a 13 e 14 de Fevereiro. Sem grande sucesso, porque todos os subscritores do acordo sobre o programa nuclear iraniano, denunciado unilateralmente por Trump, declinaram o convite para estar presentes ao mais alto nível (mesmo a Polónia, país anfitrião, reafirmou o seu alinhamento com a União Europeia na matéria). A imprensa europeia qualificou a reunião de «fiasco», e a americana ironizou acerca do desaire infligido ao vice-presidente Mike Pence e ao secretário de Estado, Mike Pompeo, que posaram para a foto de família com Netanyahu e um punhado de dignitários árabes.
Acusado pelos seus adversários políticos de «incendiar» o paiol do Médio Oriente com os seus actos e palavras irreflectidas, Donald Trump tem sido, ao menos tempo, de uma rara lucidez na avaliação dos resultados das políticas dos seus predecessores. Em Abril de 2018 afirmava publicamente que os EUA tinham gasto 7 mil milhões de dólares em 17 anos de guerras na região sem tirar nenhum benefício. Em Dezembro passado, quando anunciou a retirada das tropas americanas da Síria, rematou que este país estava «perdido há muito tempo», e que já que a Rússia e o Irão «detestam o Daesh mais do que nós» não via inconveniente em deixar os aliados de Bachar al Assad «acabar o trabalho», provocando o pânico entre curdos e israelitas, a indignação dos europeus e de Israel, e a demissão do chefe do Pentágono, James Mattis.
Enquanto Clinton, Bush e Obama falavam de defender ideais e valores universais (a democracia, a liberdade, os direitos humanos, as mulheres…), Trump encara a política como homem de negócios: interesses e retorno sobre investimentos.
Em Maio de 2017, na sua primeira viagem ao Médio Oriente, para uma cimeira com os aliados árabes, lançou a ideia da MESA, com o claro propósito de aplicar à futura «OTAN árabe» a mesma disciplina que impôs à OTAN propriamente dita: aliviar o fardo financeiro que representa para o erário dos EUA a defesa e a segurança da região, ao mesmo tempo que Washington conserva a liderança, política e militar, da coligação. Por outras palavras, a futura OTAN poderá alinhar 300 000 efetivos, 5000 blindados e 1000 aviões de combate, mas este arsenal deverá ser financiado pelos árabes, enquanto Washington terá a última palavra acerca da sua utilização e continuará a vigiar a situação local e regional, através da sua rede de bases e centros de observação electrónica.
Em busca da união (im)possível
A ideia de uma coligação militar regional para estabilizar o Médio Oriente não tem nada de novo. O CCG, o núcleo duro da MESA, tem um braço armado. Criado em 1981, este clube das seis monarquias sunitas da Península interveio militarmente no Bahrein (base da V Frota dos EUA), em Março de 2011, para esmagar a revolta popular contra o rei Hamad ben Issa Al Khalifa. Por iniciativa saudita, esta aliança foi alargada em 2015 ao Egipto, Jordânia, Marrocos, Paquistão e Sudão para intervir no Iémen. Rebaptizada Aliança Islâmica contra o Terrorismo e envolvendo dezenas de países muçulmanos não árabes como a Turquia, africanos e asiáticos.
Mas nenhuma verdadeira aliança árabe funcionou no passado, apesar das tentativas levadas a cabo pelos nacionalistas árabes, nasseristas, baassistas ou islamistas (Irmãos Muçulmanos). E apesar das incitações do Ocidente a unir-se contra um inimigo, real ou imaginário: o comunismo, na década de 70, o terrorismo, e agora o Irão.
O principal obstáculo reside na própria realidade deste «mundo árabe» que é mal compreendido pela maioria dos comentadores ocidentais, que tende a confundir história, cultura e religião, e a projectar os seus próprios modelos estatais sobre sociedades com outras formas de organização política.
O califado árabe, que os sauditas e todos os fundamentalistas islâmicos que inspiraram e financiam identificam como a idade de ouro do Islão e querem reerguer, acabou com a tomada de Bagdad pelos Mongóis, em 1258, e foi reinventado mais tarde pelos sultões otomanos, que nunca foram árabes. Quando, no final do século XIX, nacionalistas árabes começaram a denunciar esta «usurpação», dando origem a reivindicações nacionalistas antiturcas, as potências coloniais da época, Inglaterra e França, viram nisto a oportunidade de repartir entre elas e os seus «clientes» as províncias árabes do Império Otomano, dando origem ao mapa político que se conhece actualmente.
Um mapa que, para a maioria dos habitantes da região, organizados em tribos e clãs, importa muito menos que as afinidades culturais, linguísticas e religiosas que estruturam as suas comunidades, e que a aspiração universal a viver em paz e segurança, com melhores condições materiais, mais dignidade e respeito. A «rua árabe», tantas vezes referida com desprezo, integrou a complexidade do mosaico de línguas e religiões que constituem a sua herança e que os politólogos estrangeiros descobrem quase sempre a posteriori, para se preocupar com a sorte das «minorias» ou, pelo contrário, fomentar as divisões e ódios sectários.
As maiores tragédias do último meio século no Médio Oriente, da guerra civil libanesa ao Iémen, passando pelo Iraque e a Síria, tiveram como pano de fundo a manipulação política de umas comunidades contra outras, e o jihadismo no Iraque e na Síria foi o seu fruto monstruoso.
«Que acontecerá aos habitantes da região quando os terroristas forem eliminados e o Irão derrotado?», perguntava uma estudante egípcia, citada pelo diário francês Libération, depois de ouvir Mike Pompeo prometer, no Cairo, como Obama dez anos antes, uma nova era nas relações americano-árabe e continuar a lutar «pela diplomacia até à expulsão do último iraniano da Síria».
O quebra-cabeças da reconstrução, como e com quem?
Bachar el Assad ganhou militarmente a guerra na Síria e o epílogo político do conflito discute-se actualmente entre as três potências que apoiaram o regime de Damasco – Rússia, Turquia e Irão. Mas a reconstrução do país pode oferecer aos vencidos – o Ocidente e os seus aliados árabes e israelita – a oportunidade de reverter a situação ao seu favor. As Nações Unidas avaliam em 300 mil milhões de dólares os custos da reconstrução das cidades e infraestruturas devastadas; Damasco não tem como financiá-la; a Rússia, Irão e Turquia têm outras prioridades; a China, interessada em envolver a região nas suas «rotas da seda», teria a capacidade e os meios necessários, mas mantém-se na expectativa.
As petromonarquias do Golfo, se unissem os seus esforços, poderiam pesar sobre o processo e retomar influência sobre a Síria com os seus livros de cheques, como a Arábia Saudita fez no Líbano, depois da guerra civil, ou no Egipto junto do poderoso marechal al-Sissi. É o que pensa Trump. Por isso, os emissários árabes retomam, discretamente, o caminho de Damasco, os EUA reabriram a sua embaixada, o Bahrein prepara a sua e, em Dezembro, o presidente do Sudão foi o primeiro chefe de Estado árabe a visitá-la, desde o início da crise. A reintegração da Síria na Liga Árabe, de onde foi expulsa em 2011, esteve na agenda das últimas cimeiras da organização; o Egipto milita a favor, o que é interpretado como uma luz verde da Arábia Saudita. Mas é o senhor de Damasco que se faz rogar, receoso talvez das reacções dos «amigos» turco e iraniano. A 22 de Fevereiro, o presidente Erdogan acusou publicamente a União Europeia de hipocrisia, por ter aceite participar numa cimeira EU-Liga Árabe, organizada no Egipto, pelo marechal al-Sissi, «que executou 42 pessoas» desde que derrubou o presidente eleito, Mohamed Morsi, próximo de Erdogan.
Com efeito, a guerra na Síria não destruiu apenas este país. Abalou todos os equilíbrios regionais e dividiu e enfraqueceu os Estados árabes no seu conjunto. O Iraque e o Líbano, que foram às urnas em 2018, demoraram meses a formar governos. Em Beirute, o primeiro-ministro (sunita) Saad Hariri mantém-se no cargo, mas teve de tomar distância em relação ao seu «padrinho» saudita, que o sequestrara em 2017 e o obrigara a demitir-se para que deixasse de ser «refém do Hezbollah» xiita, aliado de Damasco. No Iraque, depois da inesperada vitória eleitoral da coligação «em marcha», liderada pelo nacionalista xiita Moqtada el-Sadr, apoiada pelos comunistas, emergiu um governo que inquieta ao mesmo tempo Washington e Teerão: tecnocrático e não sectário, colocou como prioridade a reconstrução e o relançamento da economia, a luta contra a corrupção e a saída de todas as tropas estrangeiras e o desarmamento das milícias, principalmente xiitas e curdas, que, como na Síria, estiveram na primeira linha no combate contra o Daesh. O referendo a favor da independência da região autónoma do Curdistão, de 2017, não é mais que um longínquo episódio da guerra e, apesar das visitas a Erbil dos chefes da diplomacia francesa, a 10 de Janeiro, e americana, cinco dias mais tarde, o «presidente» Massoud Barzani (que se demitiu em Novembro de 2017 e não foi substituído) sabe que a criação de um Estado curdo independente já não faz parte da agenda internacional, facto que alegra a Turquia e indigna Israel.
Como podem pretender os Estados Unidos e a União Europeia, que se equivocaram tão rotundamente em quase todas as suas opções e intervenções ao longo de três décadas, apesar da sua inteligência, superioridade tecnológica e militar, oferecer soluções válidas para o futuro do Médio Oriente e, sobretudo, inspirar confiança aos seus aliados e respeito aos seus adversários? É a pergunta que perturba as capitais e os dirigentes árabes, cada vez mais inclinados a seguir os seus instintos de sobrevivência e a procurar, cada um pelo seu lado, interlocutores mais fiáveis. Putin, pela sua capacidade de falar com todos e de procurar os «arranjos» possíveis para as situações mais críticas, ganhou fama de perceber as realidades melhor que ninguém. O Irão e a Turquia de Erdogan são vistos como exemplo de que é possível dizer «não» à superpotência americana e sobreviver. A Ásia, com a China e a Índia à cabeça, é agora o primeiro mercado para os exportadores de petróleo do Golfo e são mais hábeis que os Europeus para contornar as sanções e os embargos decretados por Washington.
Israel, que exige (e obtém) dos Estados Unidos e da UE um apoio total e incondicional, deixou de ser um aliado obediente. Primeiro país da região a reconhecer a China comunista, esperou até 1992 o mesmo gesto de Pequim, mas as relações económicas entre os dois países não param de crescer, um terço dos investimentos de alta tecnologia em Israel são chineses e as negociações para um acordo de livre comércio começaram no final de 2018. Mas, ao mesmo tempo, Netanyahu continua a sua cruzada contra o Irão, que aderiu à organização de cooperação de Shangai e tem na China um dos seus principais clientes, e bombardeia na Síria alvos alegadamente iranianos, violando descaradamente o espaço aéreo libanês.
Como disse recentemente o secretário-geral da ONU, António Guterres, à televisão suíça, «o mundo está caótico». O Médio Oriente navega em águas turvas e a culpa não é (só) de Trump.
Os artigos assinados publicados nesta secção, ainda que, obrigatoriamente, alinhados com os princípios e objectivos do MPPM, não exprimem necessariamente as posições oficiais do Movimento sobre as matérias abordadas, responsabilizando apenas os respectivos autores.